
A vontade como antídoto ao nosso desespero kierkegaardiano
Fausto Antonio de Azevedo
(Psicanalista)
Mário José de Souza Neto
(Escritor, Palestrante)

Kierkegaard, os três estádios e o desespero
Em artigo anterior1 procuramos ressaltar os três estádios do desenvolvimento humano, na visão de Kierkegaard, e a maneira como tal reflexão filosófica não se opõe à religiosidade, mas, pelo contrário, enseja a passagem do ser humano ao terceiro dos níveis, o mais aprimorado, que é justamente o da religiosidade. Todavia, para isso, é imprescindível uma ação determinada de vontade em cada um que pretenda percorrer esse caminho. Uma vontade hospedada no “eu” e por ele ativada.
Para Kierkegaard o “eu” humano é uma síntese (complexa e mesmo paradoxal) de infinito e finito, eterno e temporal, liberdade e necessidade, e sendo uma síntese, é a relação entre dois termos. Mas deste este ponto de vista somente, o “eu” ainda não existe. Se o “eu” não fosse mais do que isso – mais do que o simples relacionamento de dois aspectos binomiais – seria apenas um reflexo passivo da resultante das forças que o estabelecem.
A isso chegamos pela análise dos estádios iniciais, o estético e o ético. O modo estético de viver é caracterizado pelo lado do infinito, e a liberdade, pela possibilidade pura que a imaginação desenha. A vida ética apela ao finito e à necessidade, à responsabilidade envolvida em se comprometer com algo concreto. O problema é que se o “eu” se identifica com ou se reduz à simples relação desses dois fatores, então ele será passivo, como foi dito, será mero reflexo de forças externas que produzem cada fator, como condições biológicas que originam o prazer, e a universalidade dos códigos morais, regras sociais, que governam o comportamento ético.
Se a relação se refere a si mesma e não aos fatores relacionados, este último relacionamento é um terceiro termo positivo e este é/será o “eu”. Ou seja, o “eu” não é uma passividade, mas uma atividade: a de relacionar os fatores de uma maneira única e, portanto, autêntica.
Esta concepção do “eu”, como um relacionamento que se relaciona consigo mesmo, é exposta nos primeiros parágrafos de O desespero humano2 (Primeira Parte, Livro I – O desespero é a doença mortal – p. 19). Depois, todo o texto se prende a analisar o que ocorre quando os elementos do eu se relacionam de outra maneira. Qualquer relação do eu que não seja a autêntica ou verdadeira, conforme o defendido por Kierkegaard, revelar-se-á uma condição mórbida tipificada pelo desespero – eis aí o desespero! (todavia, precisamos nos precaver, o desespero, na visão de Kierkegaard, nem sempre é nocivo), enfermidade espiritual universal, que pode nos tornar incapazes da elevação ao terceiro estádio, o religioso. Para Kierkegaard, esta condição enfermiça não é como uma doença corpórea que pode ser tratada por uma pílula, nem é um problema psicológico que pode ser abordado por meio de uma psicoterapia (e temos aqui um ponto para intensa polêmica, em que pese a culminância do pensamento do dinamarquês nos enviar à dimensão do religioso absoluto, onde a fé, por certo, desbanca a razão, e mesmo que houvesse a possibilidade de um saber desse absoluto ele, então, seria só mais um saber e, portanto, não absoluto), mas, de fato, trata-se de uma condição existencial ou ontológica. Este desespero é o resultado da intenção de não se querer ser o eu que verdadeiramente se é.
Ser o “eu” uma relação ou síntese de dois entes binomiais (infinito/finito, possibilidade/necessidade), e o desespero, uma discordância nessa relação, implica em que há duas maneiras em que o desespero pode se manifestar:
- o desespero do infinito e possibilidade, liberdade (forma estética do viver) em que há uma ênfase nesse lado do relacionamento, desesperando por conta da falta relativa do outro extremo, finitude/necessidade (forma ética do viver). Neste caso, a pessoa vive preponderantemente na imaginação, num plano de fantasia abstrata, longe da facticidade do mundo ao seu redor. Pessoas assim tendem a se perder, porque o “eu” é algo que se projeta acima incessantemente e, desse modo, pode escapar e se perder;
- a forma de desacordo em que o foco é despejado na finitude e na necessidade, em detrimento do infinito e da possibilidade. Pessoas assim são conformistas. Para Kierkegaard, junto com o desespero que mergulha cegamente no infinito até a perda do eu, existe outro de diferente, que se deixa frustrar de seu eu pelo outro. Vendo-se cercado por tantas pessoas, sobrecarregando-se de tantos assuntos humanos, esse desesperado se esquece de si mesmo, não ousa acreditar em si. Torna-se bastante arriscado ser ele mesmo. É muito mais fácil e seguro ser como os outros, uma cópia, um número, um a mais da multidão.
Portanto, há que se aplicar o saber na busca do equilíbrio entre necessidade e possibilidade. Aliás, como só é de se fazer em tudo na vida, como nos manda a verdadeira inteligência e a boa prática das dialéticas, a harmonia do equilíbrio entre o excesso e a falta, a razão e a intuição, a transcendência e a imanência, o eu e o outro, a introversão e a extroversão, o apolíneo e o dionisíaco…
O desespero humano será também mirado por Kierkegaard de acordo com o grau de consciência que dele se tem, isto, obviamente, porque para que dele se cuide com algum êxito é preciso que dele se tenha um quantum suficiente de consciência. São três esses graus:
- a pessoa não é consciente de seu desespero, posto que, de fato, ela ignora possuir um “eu” (e talvez viva muito bem assim…). Para Kierkegaard o desespero humano é a enfermidade que antecede sintomas como a depressão e a angústia. O real problema, para ele, nesse grau, é não se dar conta de possuir um “eu”, vale dizer, um espírito. Aquele que se encontra nesse grau está dominado pelos sentidos, pelo sensório, a sensualidade, o agradável (e seu oposto). Identifica-se com universais abstratos (como Estado ou nação) e simplesmente toma suas habilidades como poderes naturais e não percebe a própria existência como uma tarefa a ser realizada, cumprida pessoalmente.
- No segundo grau, há consciência do “eu”, do espírito que se “é”. Todavia, há também, ao mesmo tempo, o desejo desesperado de não ser esse eu. É o que Kierkegaard chama de o desespero da fraqueza e é uma forma passiva de desespero. Aqui é onde bem se encaixa o esteta: rege sua vida em termos de fatores externos como fama, dinheiro e a opinião dos outros, até que algo lhe sobrevenha de uma ordem incontrolável por ele e que o leve ao desespero e um consequente sentimento de frustração, depressão ou desconforto. Mas Kierkegaard adverte para que não se pode confundir o sintoma (o sentimento que sobrevém) com a enfermidade. E nesse grau de consciência a pessoa sabe disso, ou seja, sabe que nenhum objeto ou condição externa e finita pode servir como base para uma felicidade duradoura. Entra aí uma espécie de infantilidade mágica como se algo externo pudesse surgir e modificar sua condição, ou que ela mesma, ocupando-se com diversão ou trabalho, etc., pudesse, por seu próprio esforço, manter sua condição escondida, ocultada, longe da vista. Em toda obscuridade, diz Kierkegaard, existe uma relação dialética entre conhecimento e vontade. Assim, os que se encontram nesse grau acabam por atuar como cúmplices de sua própria condição.
- No terceiro grau de consciência deparamo-nos com o desespero ativo, que corresponde à fase ética. Aqui a pessoa possui seu “eu” e intenta tomar as rédeas de sua existência. A pessoa relaciona-se consigo mesma. Este eu, muito heróico e romântico, que traz algo nietzschiano, sartreano, kantiano (rege-se por um imperativo categórico) e hegeliano (realiza o absoluto no seio social), não é, entretanto, aquele eu verdadeiro de que nos fala Kierkegaard.
Como já vimos, Kierkegaard entende que o eu se inicia numa síntese ou relação de dois termos ou conjunto de fatores. Existem, portanto, esses dois termos e, além deles, o próprio relacionamento, como um terceiro elemento. Quando essa relação se refere a um dos fatores, não passa de uma unidade negativa, acentua Kierkegaard, como no caso do esteta e o desespero da fraqueza. Porém quando se refere a si mesma, é uma unidade positiva e, diz ele, isso é o “eu”. Isto é o homem ético que se determina. No entanto, este “eu” está em desespero, o que significa uma discórdia na relação do eu. Kierkegaard nomeia essa condição como desespero desafiador porque insiste em sua autonomia, sua soberania, apesar do solo fraco da vontade em que se baseia.
Para Kierkegaard o relacionamento positivo só pode ter sido estabelecido por si ou por outra coisa. Não pode ser um relacionamento autonomamente surgido porque, segundo sua análise, ele sofre desespero, o que significa que é um relacionamento discordante. Existe um relacionamento concordante? Se houver, deve ter sido estabelecido por outro. Ele diz: “Se nosso eu tivesse se elevado, haveria apenas uma forma de desespero: não querer ser você mesmo, querer se livrar de si mesmo”. No entanto, existe outra: a vontade desesperada de ser você mesmo. Ele continua: “O que essa fórmula realmente traduz é a dependência do conjunto da relação, que é o eu, isto é, a incapacidade do eu de alcançar o equilíbrio e o repouso por suas próprias forças; ele não pode fazer isso em sua relação consigo mesmo, mais do que se referindo ao que todo o conjunto da relação planejou”. Isso é Deus!
No nosso antes citado artigo3, já mencionávamos a contenda que se percebe entre as obras de Hegel e de Kierkegaard. Naquele, a consciência inicia sua jornada isolada e alienada de seu contexto, e, no final, por meio da evolução da dialética, se identifica com a totalidade ou o absoluto de que já fazia parte. Neste, inversamente, o sujeito, como um hedonista, começa pelo estádio estético, identificando-se com seu entorno, na medida em que rege sua vida pelos gostos e inclinações recebidos da natureza. A partir daí, até atingir o estádio religioso, o progresso realiza uma crescente diferenciação do sujeito relativamente a seu ambiente, até que ele se torne, verdadeiramente, um indivíduo de fato.
Mas o que é um “indivíduo”? Em Temor e tremor (“Existe uma suspensão teleológica do ético? ”), Kierkegaard se vale da história bíblica de Abraão e diz que é possível uma suspensão do ético pela via da fé e da individualidade, em que pese a possibilidade real ser antes pela via filosófica da razão e da universalidade, em função do vínculo íntimo que há entre a razão e a ética, conforme demonstrado tanto pelo modelo socrático-platônico, quanto pelo hegeliano. No primeiro, nenhuma sociedade pode internalizar o bem tão competentemente quanto a própria “Idéia do Bem” e, portanto, sempre estará sujeita a críticas. No segundo, o critério racional não está em outra dimensão inteligível (um mundo ideal, ao qual a alma tem acesso, por exemplo), mas no próprio desenvolvimento social, que, ao atingir o absoluto, já não é nada mais que a encarnação completa da própria razão e, assim, não lhe cabe uma crítica de seu esquema ético fundamental.
E Deus, o que seria? O Deus de Kierkegaard, segundo Zizek4, é estritamente correlativo à abertura ontológica da realidade, ao nosso relacionamento com a realidade como inacabado, “no devir”. “Deus” é o nome do Outro Absoluto contra o qual podemos medir a completa contingência da realidade; como tal, não pode ser concebido como qualquer tipo de substância, como a Coisa Suprema (que novamente o tornaria parte da realidade, seu verdadeiro fundamento). É por isso que Kierkegaard precisa insistir na completa “dessubstancialização” de Deus. Deus está “além da ordem do Ser”, ele não é senão o modo de como nos relacionamos com ele, ou seja, não nos relacionamos com ele; ele é este relacionado:
O próprio Deus é o seguinte: como alguém se envolve com ele. No que diz respeito aos objetos físicos e externos, o objeto é algo além do modo: existem muitos modos. Em relação a Deus, o como é o quê. Quem não se envolve com Deus no modo de devoção absoluta não se envolve com Deus (Kierkegaard, 1970, entrada 1405 – cf. Zizek acima).
A passagem cristã ao Espírito Santo como amor (de Cristo “sempre que houver amor entre vocês dois, eu estarei lá”) deve ser tomada literalmente: Deus como o indivíduo divino (Cristo) passa para o elo puramente não substancial entre os indivíduos. Essa devoção absoluta é representada no gesto de auto-renúncia total: “Na auto-renúncia, entendemos que somos incapazes de nada” (Kierkegaard, 1962a, p. 355 – cf. Zizek acima). Essa renúncia é testemunha da lacuna que nos separa de Deus: a única maneira de afirmar o compromisso de alguém com o sentido incondicional da vida é relacionar toda a nossa vida, toda a nossa existência, à transcendência absoluta do divino, e porque não há medida comum entre nossa vida e o divino, a renúncia sacrificial não pode fazer parte de uma troca com Deus.
Fica claro que passar ao último dos três estádios previstos por Kierkegaard, o religioso, depende de uma decisão do indivíduo, de sua determinação, de um exercício prático de escolha e de método, de uma postura, enfim, de uma vontade pulsante de cada um.
O estádio religioso é o que pode resolver os problemas das duas gradações anteriores (a estética e a ética), mas é de maior dificuldade para ser assimilado. Não se o apreende pela dialética (hegeliana), porém de modo existencial. Vai além do ético e é o máximo a que se pode chegar; sendo o estádio em que se efetiva a realização do indivíduo. Para Kierkegaard, uma relação religiosa com o mundo nos possibilitará a sensibilidade à nossa própria insuficiência (a condição do ser finito em cuja existência existe o que ele é e o que ele ainda falta ser). No estádio ético, o homem até pode transgredir uma lei estabelecida por homens, entretanto, no estádio religioso, o erro, se ocorrer, será contra leis dadas por Deus; o que equivalerá a pecado. O estádio religioso interdita o ético se o indivíduo estiver frente a uma escolha que implique em uma finalidade maior (o exemplo de Abraão).5
Destarte, no ponto ao qual aqui chegamos, torna-se necessária uma breve digressão a respeito do que é vontade.

Vontade
A palavra vontade, usualmente simbolizada pela figura de uma espada, tem origem etimológica no Latim voluntas, – ātis; voluntatem. Vem de Volere, que guarda o sentido de “querer”, “anelar” (no inglês, WiII; alemão, Wille; francês, Volunté; italiano, Volontà; espanhol, Voluntad).
No grego antigo não há referência. Mas, no Grego Helênico há o termo thélema (θέλημα), equivalente a vontade e às inclinações divinas:
Atos 22:14 (Novo Testamento)
14 E ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade, e vejas aquele Justo e ouças a voz da sua boca.
Romanos 12:2 (Novo Testamento)
2 E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus.
Efésios 1:9 (Novo Testamento)
9 E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo.
(Negritos nossos.)
Tem-se também bulia, de boulé, ês, com sentido de vontade, reflexão, de onde decorrem abulia, disbulia, hipobulia. Abulia traz o significado de “Enfraquecimento ou perda da vontade, da iniciativa, da capacidade de escolher ou decidir.” (Cf. http://www.aulete.com.br/abulia).
De acordo com o Dicionário Caldas Aulete – Aulete Digital (http://www.aulete.com.br/vontade), vontade é “1. Capacidade de querer e de escolher, de se impelir para a ação, afirmação ou recusa, subjetiva ou objetiva.” “2. Sentimento que leva as pessoas a se comportarem conforme essa capacidade: Sua vontade, inflexível, dobrou a resistência dos companheiros.” “3. Necessidade física ou emotiva: vontade de comer: vontade de beber: vontade de ir ao banheiro: vontade de brincar: “A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, / vem de Itabira…” (Carlos Drummond de Andrade, Sentimento do mundo)”; etc.
Várias expressões são formadas com a palavra vontade e algumas podem nos interessar bastante no propósito deste artigo como: “boa vontade”: inclinação ou disposição favorável para com algo ou alguém; “vontade de ferro” (ou “força de vontade”): firmeza em manter suas decisões e atitudes, de mobilizar esforços para a realização de algo, mesmo em condições difíceis; força de caráter; etc.
No Império Romano fala-se numa vontade romana, que é força e razão; conceito que se espalha pelo continente europeu. O próprio filósofo Agostinho (de Hipona), Santo Agostinho, parecia experienciar essa vontade6.
Na constelação de vocábulos que se relacionam com a palavra vontade podemos distinguir, dentre outros: desejo, intenção, motivo, capricho, libido7…
A vontade é uma força que está em nosso interior e a partir daí opera. Vontade não é desejo. O intenso uso da palavra vontade entre nós a desgastou no seu significado mais nobre. A vontade forma nosso “eu” tanto quanto nosso corpo. Ela é constituinte do que somos. Um ser humano nos 70 anos, quando lembra de seus 10 e se pergunta: o que de lá eu tenho agora, o que veio, como aquela criança ainda “é” o que sou hoje, poderíamos nisso, perfeitamente, enxergar a vontade como o grande fio condutor dessa vida. O que vem desde o antes até o bem depois agora é a vontade que nos propulsiona a ser o “eu” que almejamos; ou a sermos um “eu”. A vontade é uma intencionalidade, um propósito; é aquilo que se quer fazer, que se pretende realizar. É uma capacidade nossa, uma propriedade que possuímos de tomar uma posição frente a um dado fato. Sendo uma decisão, a vontade é aplicada por meio da inteligência e produz a ação e seus efeitos. Por isso, ela, por implicar decisão, nem é desejo nem é volição.
Para Santo Agostinho, bem como para Descartes, a vontade se confunde, se amalgama com a liberdade, e, por isso, pode nos levar ao bem ou ao mau, vale dizer, ao louvor ou à reprovação, seja no plano teológico seja no social. Se somos seres capazes de gerar a vontade em nosso mais íntimo e profundo, somos então inalienavelmente responsáveis por nossas escolhas e suas consequências (nem mesmo a Deus poderemos delegar nossos acertos ou erros – assim, estamos sozinhos diante deles). A vontade, portanto, nos enquadra numa inscrição moral. Agostinho, chama a escolha equivocada que nos conduz à reprovação de pecado (falta, agravo religioso). Descartes a denominará de agravo moral (se a falta gestada pela vontade é prática) ou epistêmico (a falta vinda da vontade é teórica).
Segundo Abbagnano (2012)8, o termo vontade tem sido usado na filosofia com dois significados fundamentais:
1º. – como princípio racional da ação: é o significado da filosofia clássica, para quem a vontade é apetite racional ou compatível com a razão, distinto do apetite sensível, que é o desejo.
2º. – como princípio da ação em geral: a vontade, às vezes, foi identificada com este princípio, vale dizer, com o apetite. O primeiro a expor esse conceito generalizado da vontade foi Santo Agostinho, segundo quem “a vontade está em todos os atos dos homens; aliás, todos os atos nada mais são que vontade”.
Ambos os significados pertencem à filosofia tradicional e à psicologia dos 1800, porque ligados à noção de faculdade, ou poderes originários da alma que se combinaram para produzir as manifestações do homem. Mas hoje, nem a filosofia nem a psicologia interpretam desse modo a conduta do homem. As noções de comportamento e de forma, bem como a tendência funcionalista da psicologia, não permitem falar de “princípios” da atividade humana e, portanto, as classificações intelecto-Verdade ou intelecto-sentimento-Verdade perderam o significado literal. Em algumas ocasiões, a palavra verdade é conservada, mas unicamente para indicar determinados tipos de conduta ou certos aspectos da conduta.9 Ainda de acordo com o antes citado Abbagnano, há uma plêiade de grandes filósofos alinhados ao primeiro sentido filosófico de vontade, e outros tantos escudados sob o segundo significado.10
O tema vontade foi tratado em algumas grandes obras da filosofia:
- Rousseau, em O contrato social cuida da vontade política;
- Kant, na Crítica da razão prática, desenvolve uma vontade ética ou moral;
- Schopenhauer, em sua obra magna, O mundo como vontade e representação, trata da Vontade Mística – vontade de vida;
- Nietzsche, em A gaia ciência [idéia de eterno retorno (do igual)] e em Assim falou Zaratustra, desenvolve a noção de vontade de poder (ou de potência).
No plano da psicanálise, a vontade nos faz pensar em algo quiçá próximo (do mesmo universo) à “pulsão de vida”, residente no “id”, conforme Freud apresentou em “As pulsões e seus destinos” (ou Os instintos e suas vicissitudes11 ou Os instintos e seus destinos) e, em maior profundidade, em Além do princípio de prazer12 (1920). Segundo Roudinesco13, na antes citada obra freudiana “se organizou um novo dualismo pulsional (pulsão de vida/pulsão de morte), a libido foi assimilada a Eros: ‘A libido de nossas pulsões sexuais coincide com o Eros dos poetas e filósofos, que mantém a coesão de tudo aquilo que vive.’” E, no Esboço de psicanálise, Freud fundiu os dois termos: “toda a energia de Eros, que doravante denominaremos de libido.”
Freud elabora a idéia de pulsão de morte (Thânatos) baseado em sua clínica, na qual constata a questão do sado-masoquismo, da compulsão à repetição e da reação terapêutica negativa, experiências que lhe apontam que o funcionamento psíquico não é dominado pelo princípio de prazer. Daí resulta grande alteração em sua teoria das pulsões: ele entenderá o indivíduo como palco do conflito entre a pulsão de morte e a pulsão de vida (Eros), e não mais entre as pulsões do Ego e as pulsões sexuais. Para ele, a pulsão de morte estaria no princípio de qualquer pulsão, como um desejo de recusar a condição desejante, e conduz à redução completa das tensões, a um estado anorgânico (princípio de Nirvana). A pulsão sexual e as de autoconservação somam-se, assim, na pulsão de vida, explicada por Freud como uma força que busca a ligação, a constituição e conservação das unidades vitais. A segunda teoria das pulsões pode ser vista como o conflito entre desejo de desejar (Princípio de Prazer) e desejo de não-desejar (Nirvana), que atuam simultaneamente.
Já num aspecto motivacional-religioso, vontade se equipararia a entusiasmo (que é distinto de empolgação). Entusiasmo é a exaltação de ânimo, o fervor interior que parece vindo de fora, uma força superior à nossa. A palavra surge no latim tardio “enthusiasmus”, originada do grego “enthousiasmos”: inspiração divina, arrebatamento, êxtase. É formada de “entheus” ou “enthous”, significando que leva um Deus dentro: en + theos (Deus). O entusiasmo era o furor ou arrebatamento das sibilas ao dar seus oráculos; ele pode inspirar e direcionar a vontade própria em sentido à realização de obras.
A vontade em Schopenhauer14
O filósofo Arthur Schopenhauer (1788-1860) deu grande importância ao tema da vontade, magistralmente exposto em sua obra maior: “O mundo como vontade e representação” (1819). Para ele, a vontade é o único elemento permanente e invariável do espírito, aquele que lhe dá coerência e unidade, que constitui a essência do homem. A vontade seria o princípio fundamental da natureza, independente da representação, não se submetendo às leis da razão.
Schopenhauer toma o pensamento de Platão de que os objetos do mundo são aparências, meras sombras das coisas verdadeiras, as quais o homem não podia conhecer nesse mundo, feito todo ele de representações imperfeitas. Para Platão, as coisas perfeitas e absolutas existiam no mundo das idéias, onde as almas, antes de se encarnarem nos corpos, as vislumbravam. No mundo das idéias existe a beleza total e completa, mas coisas belas do mundo são belezas incompletas, apenas representações imperfeitas da verdadeira beleza, fora do alcance e da compreensão do homem. No entanto, Schopenhauer pondera que existe uma coisa absoluta que o homem conhece totalmente: a vontade. Analisando igualmente em detalhes a obra de Kant (de quem se dizia discípulo), Schopenhauer objeta que a vontade também escapa à sua doutrina. Kant havia dito, de forma análoga, que conhecemos os fenômenos que nos revelam as coisas, mas não as conhecemos em si mesmas, totalmente. Disse, ainda, que nosso conhecimento está preso a certas fórmulas de apreensão da realidade e que só podemos elaborar o conhecimento de modo limitado, segundo quatro grupos de formas ou de categorias de intuição: o de quantidade, o de qualidade, o de relação e o de modalidade. Esses grupos de categorias, por sua vez, totalizam outras doze categorias, entre elas, por exemplo, a de pluralidade, ou seja, a percepção de que uma coisa é única ou múltipla, dentro do grupo das categorias de quantidade. Assim também se dá com a categoria de causalidade, uma forma de relação, segundo a qual nós podemos dizer que uma coisa é a causa de outra, não apenas porque vemos uma sucessão de eventos, mas porque também somos capazes de conceber uma vinculação de causa e efeito. Kant disse mais: que, primeiramente, tudo que sabemos são coisas que se sucedem no tempo e se distribuem no espaço. Espaço e tempo precedem, portanto, as doze categorias, uma vez que não sabemos de nada que não esteja no espaço, real ou imaginário, ou que não esteja no tempo. Ao que podemos conhecer, Kant batizou de fenômeno, e para o que existe sem que possamos conhecer, deu o nome de nôumeno, que significa, a coisa não aparente, incognoscível, que se costuma dizer também que é “a coisa-em-si”. Em sua crítica a Kant, Schopenhauer comenta que existem coisas que conhecemos sem nos valermos de qualquer das doze categorias, e que também não dependem do tempo e do espaço: a consciência e a vontade.
Schopenhauer afirma que o real é em si mesmo cego e irracional, enquanto vontade. As formas racionais da consciência não passam de aparências e a essência de todas as coisas seria alheia à razão: “A consciência é a mera superfície de nossa mente, da qual, como da terra, não conhecemos o interior, mas apenas a crosta”.
Assim, o inconsciente apresenta um papel fundamental na filosofia de Schopenhauer. A vontade é, acima de tudo, uma vontade de viver e de viver na máxima plenitude. Ela triunfa da própria morte graças à estratégia da reprodução, que a torna imperecível. Por isso, o instinto de reprodução é o mais forte de todos os instintos. A atração sexual é determinada por motivos estranhos ao indivíduo e tem em vista, apenas, assegurar a perpetuação da espécie, nas melhores condições possíveis.
Todavia, desde que o mundo é essencialmente vontade, não pode deixar de ser um mundo de sofrimento. A vontade é um índice de necessidade, e como ela é imperecível, continua sempre insatisfeita. E há-de se ter uma ressalva devida, posto que a aparente satisfação da vontade conduz ao tédio. A satisfação de um desejo é como a esmola que se dá ao mendigo, só consegue manter-lhe a vida para lhe prolongar a miséria. Por isso mesmo a vontade é um mal e a origem de todos os males. Daí a generalização, talvez indevida, de que a filosofia schopenhauriana seja pessimista.
O conhecimento não nos permite triunfar do mal. Pelo contrário: desenvolve a capacidade de o sentir, aumentando a sensibilidade. O suicídio também não seria a solução, porque a vontade subsistiria sob outra forma, na espécie. A destruição voluntária de uma só existência é um ato inútil e estúpido porque a coisa-em-si – a espécie, a vida e a vontade em geral – não seria afetada. A solução do problema do mal está no aniquilamento da vontade, na renúncia total. Assim Schopenhauer se aproxima do ideal budista e da filosofia hinduísta e, como se sabe, ele realmente estudou seus textos.
Para descobrir a “coisa-em-si”, Schopenhauer voltou sua atenção para o próprio homem, que também é uma coisa no universo. É verdade que o homem somente pode conhecer seu corpo como fenômeno, como aparência, segundo o tempo e o espaço e as categorias. Porém, voltando-se para o seu interior, já não precisa de tempo nem de espaço para sua consciência. Esta é atemporal e pontual. A vontade, por sua vez, representa o querer viver, é o querer realizar-se. A vontade é uma coisa em si mesma, irredutível a qualquer outra coisa, sem causa, independentemente do tempo e do espaço, e das categorias. A vontade não se desloca nem se extingue passando da coisa desejada para a coisa conquistada, a vontade quer sempre, é avassaladora, é sem sentido. Toda a vida é sofrimento porque é um constante querer eternamente insatisfeito, que leva ao amor, ao ódio, ao desejo ou à rejeição. Para Schopenhauer, a Vontade estava presente no mundo como se fosse a própria alma do universo, e era a força total pela qual o mundo existia e se movia. Ele fez da vontade um ser à parte, manifestado em toda a natureza como o substrato de todas as coisas. A vida é a manifestação da vontade. Schopenhauer considera como materialização, realização em força ou materialização da vontade, todas as forças e objetos da natureza como a gravidade, o magnetismo, os instintos animais, as forças de reação química, etc. Ele elimina Deus, e em seu lugar coloca uma “vontade universal”, que é a força voraz e indomável da própria natureza. A vontade aqui nada tem a ver com a decisão racional por uma opção de agir, mas se trata de um ser absoluto, essência primeira, a coisa-em-si, o nôumeno, que é irredutível e gera todas as coisas deste mundo. Essa fome insaciável da Vontade faz o mundo anárquico e cruel. Essa Vontade, que é também um substrato, a coisa-em-si, no homem, é responsável pelos seus apetites incontroláveis. Ao final, o homem encontra a morte, o golpe fatal que recebe a vontade de viver, como se lhe fizesse a pergunta: Você já teve o bastante?
Em sua Ética, Schopenhauer não destaca a noção de dever, mas a de renúncia. Propõe uma santidade cristã, que é meio caminho para o “nirvana” hindu. No homem, a vontade é algo de que ele tem consciência como vontade de viver e ao mesmo tempo consciência de permanente insatisfação com o que ele é (o segundo conhecimento, depois do conhecimento da vontade, é o da sua insatisfação – o que nos parece bastante kierkegaardiano), de modo que a única salvação definitiva é a superação da vontade de viver. Para anular a vontade: a renúncia, como fazem os santos, e o nirvana da filosofia hindu (budismo e bramanismo). A vontade é constante dor.
Conclusão
Como se defendeu, a chance para superarmos nossa condição kierkegardiana de desespero é a de ascensão ao estádio religioso e, nele, uma forma de identificação/fusão com o transcendental. Ora, essa possibilidade, numa primeira etapa, só poderá ser lograda por meio do exercício prático e efetivo de uma determinação disciplinada, racionalizada, planeada e ponderada, o que, em conjunto, poderia ser definido por vontade-de.
O primeiro desses momentos ou etapas, segundo Solé15:
“ (…) é sobretudo voluntarista. O indivíduo que transitou pelos estádios estético é ético e experienciou pessoalmente, existencialmente, a insuficiência e a insatisfação de ambas as possibilidades vitais para acabar por abrir-se voluntariamente à transcendência, aceitando o exemplo de Jesus Cristo como modelo de imitação para alcançar uma humanidade plena. Convencido, o indivíduo prescinde do temporal e aceita o eterno como o mais valioso. Seguiu uma evolução pessoal de exigência máxima que o salvou do conformismo e do estancamento espiritual. Não deu por válido o que os demais – a família, a sociedade, o poder político e eclesiástico – apresentavam como aspirações e objetivos da vida, submeteu-se a um rigor tenaz no desenvolvimento e no aprofundamento da sua autenticidade individual.
Nesse processo, pelo menos no plano da consciência, tudo se deve a si mesmo e à sua perseverança. Moveu-se em uma dimensão humana compreensível para razão, para uma razão que seja capaz de abarcar o sentimento da grandeza pessoal.” (Grifo nosso.)
O segundo desses momentos é o da fé, da receptividade dedicada, no qual a razão não pode operar, e é o decisivo “para alcançar a verdade subjetiva por meio da fé, que propicia uma transformação da vida e da pessoa”.16
Mas de qual vontade se fala para esse “abrir-se voluntário” à trancendência: (i) a do apetite racional de produzir algo, causa-e-efeito, suas consequências e resultados; ou (ii) daquela que nos antecede, que não estabelecemos, e que nos causa, seja como a força mística universal, que existe no aqui e no acolá desde sempre, seja como força propulsora interior a nós sim, mas da ordem do inconsciente e suas pulsões?
Bem, parece que no campo da segunda, pouco ou nada podemos intervir, a não ser tomar conhecimento de que, de fato, ele existe. Talvez só isso já seja de grande valor e ajuda. Algo na linha de busca constante por maximização de um autoconhecimento (como meta permanente, posto que um autoconhecimento pleno é inalcançável, e não nos podemos permitir buscas falaciosas).
Todavia, exatamente conhecidos e aceitos esses limites e falhas oriundos de determinações externas à nossa racionalidade (por vezes capciosas), e por ela inalcançáveis, usando-os paradoxalmente como alicerces psíquicos (algo, na forma, como essa tecnologia de construção de edifícios em zonas fortemente sujeitas a abalos sísmicos) podemos, é certo, acionar uma vontade racional de ação (uma “atividade esforçada”17), fruto de estudo e reflexão, para nos catapultarmos a um estado independente e livre, de religiosidade universal, rumo à transcendência metafísica, de re-união com o sagrado, fortemente vinculados então à mais elevada ética de vida, que é aquela de respeito irrestrito à alteridade, a Vida como experiência única e singular de cada qual, de cada um, que nos é dada e sobre o que não detemos comando nem havemos a capacidade de criar. A todo rigor, de fato, privilegiar nesse processo o outro pode mesmo constituir um atalho benfazejo porque, ao reconhecer e explicitar o sagrado no outro, isso poderá até facilitar que o façamos em nós próprios…
Notas e referências
[1] AZEVEDO, F. A., SOUZA NETO, M.J. Kierkegaard: quando a filosofia não expulsa a religião. Portal Tempo Análise, 2019: https://tempoanalise.com.br/kierkegaard-quando-a-filosofia-nao-expulsa-a-religiao/. (Acessado em 13/abril/2019)
[2] KIERKEGAARD, Soren. O desespero humano. São Paulo: Editora Martin Claret, 2002. 128p.
[3] AZEVEDO, F. A., SOUZA NETO, M.J. Kierkegaard: quando a filosofia não expulsa a religião. Portal Tempo Análise, 2019: https://tempoanalise.com.br/kierkegaard-quando-a-filosofia-nao-expulsa-a-religiao/. (Acessado em 13/abril/2019)
[4] Slavoj Zizek. Anxiety: Kierkegaard with Lacan. The Annual of Psychoanalysis, 35:179-189, 2007. https://www.pep-web.org/toc.php?journal=aop&volume=35 (Acessado em 20/abril/2019)
[5] Para se saber mais do pensamento de Kierkegaard, recomendamos a gostosa série de vídeos do filósofo Darin Mcnabb em seu canal no Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6GbAKHWYUJDWlkxY6HPldg
[6] COUTINHO, Jorge. Elementos da Filosofia Medieval. 3ª. versão. Faculdade de Teologia-Braga – Faculdade de Filosofia – Universidade Católica Portuguesa: Braga, 2008. p.43.
[7] Libido – É a energia inerente aos movimentos e transformações dos impulsos sexuais. Ela é a contrapartida psíquica da excitação sexual somática. É uma palavra latina que significa desejo, vontade. CERQUEIRA LEITE, R. Glossário de termos Psicanalíticos.
[8] ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012. verbete Vontade. p. 1203-1205.
[9] Idem.
[10] Alinhados ao primeiro significado, o de princípio racional da ação:
- Platão: retores e tiranos não fazem o que querem, embora façam o que lhes agrada ou parece, visto que fazer o que se quer significa fazer o que se mostra bom ou útil, e isso é agir racionalmente.
- Aristóteles: a vontade é “apetite que se move de acordo com o que é racional”; o termo voluntário é usado por ele para definir a escolha, que seria “o apetite voluntário das coisas que dependem de nós”.
- Filósofos da Idade Média: esta concepção prevalece durante toda a Idade Média e é repetida por Alberto Magno, S. Tomás, Duns Scot e Ockham.
- Espinoza: entende por vontade “a faculdade de afirmar ou de negar, e não o desejo – faculdade graças à qual a mente afirma ou nega o que é verdadeiro ou o que é falso, e não desejo com que a mente deseja ou repele as coisas”. Em sua Ética, ele demonstra que não desejamos algo por ser bom, mas sim porque o desejamos é que ele se parece bom para nós. Aí acontece uma inversão do desejo. Somos sempre inadvertidamente impulsionados à alguma coisa, por julgarmos que essa coisa em si possui uma atração única, indizível. Todavia, concordando com Espinoza, é porque desejamos aquilo, que sua falta passa a atuar sobre nós como uma tortura. A falta, como se sabe, se torna uma imposição, um imperativo monopolizador, que pode terminar levando a quadros psicopatológicos.
- Kant: entende por verdade a razão prática, isto é, a “faculdade de agir segundo a representação de regras”. Portanto, verdade terá um sentido moral. Para ele, vontade pura é a vontade determinada apenas por princípios a priori, por leis racionais, e não por motivos empíricos particulares. Boa vontade é a vontade de se comportar exclusivamente de acordo com o dever; desse modo, é exaltada por Kant como o que existe de melhor no mundo ou também fora do mundo.
- Fichte: afirma que a vontade é a faculdade “de efetuar com consciência a passagem da indeterminação para a determinação” – faculdade que a razão teórica obriga a pensar que existe.
- Croce: diferencia entre a forma econômica, utilitária, e a forma ética ou moral da atividade prática, o que corresponde à distinção tradicional entre desejo e vontade. Segundo ele, a forma econômica seria volição do particular, ou seja, do útil; a forma moral seria volição do universal, ou seja, apetite racional.
- Gardner Murphy: “Vontade é o nome com o qual se designa um complexo processo interior que influencia nosso comportamento de tal modo que nos torna presa menos fácil da pura força bruta dos impulsos. Falamos conosco mesmos, introduzimos modos diferentes de expressar nossa situação, imaginamos as consequências dos vários tipos de resposta e procuramos avaliar quanto cada um deles nos agradará”.
- Diderot: Vontade geral é concebida pelos iluministas como a própria razão. Ele diz: “A vontade geral é em cada indivíduo um ato puro do intelecto que raciocina no silêncio das paixões sobre o que o homem pode exigir de seu semelhante e sobre o que o seu semelhante tem direito de exigir dele”.
- Rousseau distinguia entre “Vontade de todos”, que pode errar, e “Vontade geral”, a vontade da sociedade, que nunca erra porque só tem em mira o interesse comum. Assim, vontade recebe aqui um sentido político.
- James: Vontade de crer – nada mais é que a racionalidade da fé, o direito de crer no que não é absurdo, no que torna a vida mais aceitável e, às vezes, é levado a ser pela própria fé.
Alinhados ao segundo significado, o do princípio da ação em geral:
- Santo Agostinho, que, como vimos antes, defendeu que: “A vontade está em todos os atos dos homens; aliás, todos os atos nada mais são que vontade”. Santo Anselmo e Descartes aceitarão essa noção.
- Descartes: chamou de vontade todas as ações da alma, em oposição às paixões “O que chamo de ações são todas as nossas vontades, porque sentimos que elas vêm diretamente do nosso espirito, e parece que dependem só dele, enquanto as afeições são todas as percepções ou conhecimentos que se encontram em nós, mas não foram produzidos por nossa alma, que, portanto, os recebeu das coisas representadas”.
- Hobbes faz uma crítica explícita à noção tradicional: “Não é boa a definição de vontade como apetite racional, comumente proferida pelas escolas, pois se fosse, não poderiam existir atos voluntários contrários à razão. (…) Mas se, em lugar de apetite racional, dissermos apetite resultante de deliberação anterior, então a vontade será o último apetite a deliberar”. O último apetite é o mais próximo da ação, ao qual a ação se segue. Desse ponto de vista, a vontade humana não é diferente do apetite animal.
- Locke: de modo análogo, definia a vontade como “o poder de começar ou não começar, continuar ou interromper certas ações do nosso espírito, ou certos movimentos do nosso corpo, simplesmente com um pensamento ou com a preferência do próprio espírito”.
- Hume: “Por vontade não entendo outra coisa senão a impressão interior que sentimos ou de que somos cônscios, quando conscientemente damos origem a um novo movimento do nosso corpo ou a uma nova percepção do nosso espírito”. Ele negava também qualquer influência da razão sobre a vontade assim entendida, reduzindo as chamadas volições racionais às emoções tranquilas, ligadas a instintos originários da natureza humana (como benevolência e ressentimento, amor pela vida, gentileza para a criança) ou ao apetite geral pelo bem e a aversão ao mal.
- Condillac: “Por vontade se entende um desejo absoluto, em virtude do qual pensamos que a coisa desejada está em nosso poder”.
- Mach e Dewey: concepções muito semelhantes encontram-se frequentemente nos iluministas e nos ideólogos do século XVIII e do início do XIX. Ernst Mach retoma essa concepção, John Dewey repete quase literalmente a definição de Hobbes ao dizer: “A vontade não é algo oposto às consequências ou separado delas. É a causa das consequências; é a causação em seu aspecto pessoal; o aspecto que precede imediatamente a ação”.
- McDougall: certas interpretações da psicologia contemporânea podem ser enquadradas na mesma tendência geral – é o que acontece com a interpretação de William McDougall, segundo a qual a volição seria “o apoio ou o reforço que um desejo ou uma conação recebe da cooperação de um impulso excitado no sistema dos sentimentos de autoconsideração”. Segundo essas interpretações, de fato, seriam atos voluntários aqueles nos quais o impulso determinante é constituído por uma atitude de respeito ou de exaltação do Eu diante de si mesmo.
- Schopenhauer: vontade de viver – é o númeno do mundo, nada tem de racional, “é um ímpeto cego, irresistível, que já vemos aparecer na natureza inorgânica e vegetal, assim como também na parte vegetativa de nossa própria vida”. Portanto, “o que a vontade sempre quer é a vida, justamente porque esta é apenas o manifestar-se da vida na representação, e é simples pleonasmo dizer vontade de viver em vez de vontade.” Ele considerou ser a Vontade a última e mais fundamental força da natureza, que se manifesta em cada ser no sentido da sua total realização e sobrevivência.
- Nietzsche: vontade de potência – impulso fundamental que nada tem de causação racional: “A vida, como caso particular, aspira ao máximo sentimento de potência possível. Aspirar a outra coisa não é senão aspirar à potência. Essa vontade é sempre o que há de mais íntimo e profundo: a mecânica é uma simples semiótica das consequências.”
- Ricoeur: aquilo que coloca em questão a onipotência da vontade humana – a finitude, a culpabilidade, o mal, justamente figuras dolorosas do involuntário.
[11] FREUD, S. Os instintos e suas vicissitudes (1915). In: Obras Completas de Freud, v. 14. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1996. p. 58.
[12] FREUD, S. Além do Princípio do Prazer (1920). In: Obras Completas de Freud, v. 18. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1996.
[13] ROUDINESCO, E., PLON, M. Dicionário de Psicanálise. [Trad. Vera Ribeiro, Lucy Magalhães; supervisão da edição brasileira Marco Antonio Coutinho Jorge.] Rio de Janeiro: Zahar, 1998. Verbete Pulsão p.628-633.
[14] Esse breve apanhado a respeito do significado de Vontade na obra de Schopenhauer lastreia-se em leituras da respeitável obra de Rüdiger Safranski, Schopenhauer e os anos mais selvagens da filosofia: uma biografia [Trad. William Lagos]. São Paulo: Geração Editorial, 2011. 683p.
[15] SOLÉ, J. Kierkegaard – o primeiro existencialista (2015). São Paulo, Salvat, 2017. p. 114-15.
[16] Idem p. 115.
[17] Idem p. 114.





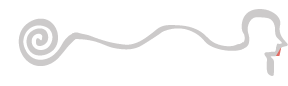
0 comentários
Escrever comentário